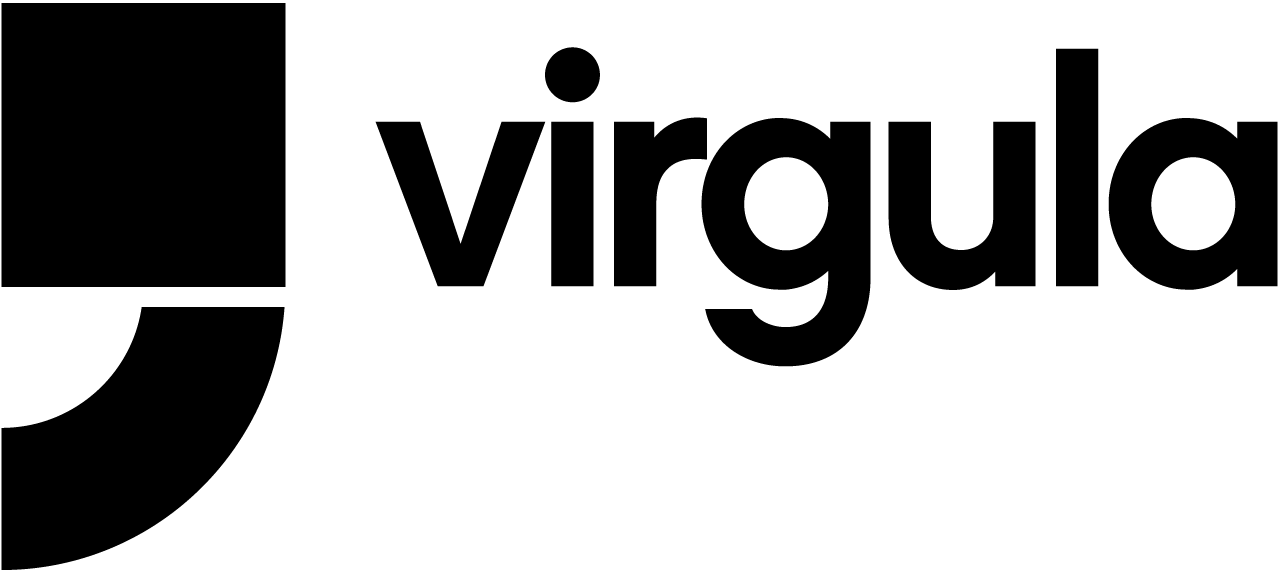O Sul é a região mais quente. Pelo menos, quando se fala em nova literatura brasileira. Após a emergência de nomes como Daniel Galera e Angélica de Freitas, as apostas recaem agora sobre Carol Bensimon, autora de Todos Nós Adorávamos Caubóis, também gaúcha como Galera e Angélica.
Em entrevista ao Virgula Diversão, Carol diz achar válida a aproximação entre seu livro, um “road book” que retrata a viagem de duas garotas que se envolvem afetivamente e sexualmente, como as francesas dos quadrinhos Azul é a Cor mais Quente, de Julie Maroh, e do filme derivado da HQ, dirigido por Abdellatif Kechiche.
Veja booktrailer de Todos nós Adorávamos Caubóis
Carol aponta, no entanto, que escreveu o livro sem imaginar a existência do filme vencedor da Palma de Ouro de Cannes e que as abordagens são muito distintas. “As possibilidades são infinitas, como numa história heterossexual. Sei que isso parece óbvio, mas às vezes é preciso repetir isso, porque algumas pessoas ainda se surpreendem ao verem o tema ser tratado com naturalidade”, posiciona-se.
Leia a seguir a entrevista, concedida por e-mail, em que a escritora de 31 anos fala sobre literatura, música, feminismo e existencialismo, entre outros assuntos:
Alguém já comparou seu livro com Azul é a Cor mais Quente? Na sua opinião tem a ver?
Sim, um jornalista me perguntou se era uma coincidência o fato de, no primeiro capítulo do Todos Nós Adorávamos Caubóis, a personagem fazer uma referência a cabelo azul. E era uma coincidência mesmo. Quando Azul é a Cor mais Quente foi Exibido em Cannes, eu já tinha terminado de escrever o romance.
Em todo o caso, acho que a aproximação é válida. São histórias que abordam o envolvimento sexual e amoroso de duas garotas, o que não é exatamente um tema comum na ficção (ainda). Mas as abordagens são muito distintas, o que só prova que o fato de que você escrever uma história sobre o amor entre duas meninas não determina que história é essa, não determina como elas se relacionam, os problemas que enfrentam, de que maneira essa história vai terminar, se vai terminar, etc. As possibilidades são infinitas, como numa história heterossexual. Sei que isso parece óbvio, mas às vezes é preciso repetir isso, porque algumas pessoas ainda se surpreendem ao verem o tema ser tratado com naturalidade.
Em que circunstâncias você escreveu o Todos Nós Adorávamos Caubóis?
Nas mais variadas circunstâncias. Primeiro, eu estava morando em Paris, fazendo um doutorado em literatura comparada, que acabei largando pelo caminho. Depois, de volta a Porto Alegre, decidindo que uma personagem (Cora) que já estava na minha cabeça há um tempo ia empreender uma viagem ao interior do Rio Grande do Sul com uma amiga não exatamente amiga. Então eu fui fazer umas viagens pelo Estado, como pesquisa. No romance, não descrevo nenhum lugar pra onde não tenha ido. Era importante captar a atmosfera das cidadezinhas.
Sua escrita é bem cinematográfica. Antes de escrever o livro você fez um roteiro, criou cenas que iriam amarrar a trama? Já sabia, por exemplo, o nome do livro e o fim?
Sim, eu faço um planejamento, e só sento na frente do computador quando tenho ideia do que vai acontecer nas próximas páginas. É claro que detalhes podem surgir pelo caminho, mas a espinha dorsal da história já está estruturada. Menos o fim. Quando comecei a escrever o livro, não sabia como ia terminar. O fim eu só costumo descobrir mesmo lá pelo terço final. Quanto ao título, nem sempre ele foi Todos Nós Adorávamos Caubóis. Essa foi uma sugestão que partiu da Companhia das Letras e, depois de uma resistência mínima da minha parte (eu já estava acostumada com o antigo), nós decidimos mudar. E eu adoro o título. Acho que ele diz um milhão de coisas.
Você provavelmente leu o livro quando ele chegou ao seu formato final, o produto livro, como é vendido nas livrarias. Nesse momento percebeu algumas referência ou influência de algum autor que você não havia ter se dado conta que havia introjetado?
Não li o livro na íntegra depois de ele ter chegado nas livrarias. Acho que os escritores raramente fazem isso, porque correm o risco de encontrar uma ou outra coisa que fariam diferente, e então já é tarde demais.
Que são seus heróis literários?
Meus heróis de adolescência foram Cortázar e Caio Fernando Abreu. Agora não sei se tenho heróis ou livros heróicos. Mas gosto demais de William Faulkner, Richard Yates, Nabokov (sou fã extrema de Lolita, mas não tanto dos outros), Bolaño, e dos vivos Ali Smith, Michael Cunningham, Steve Toltz (um australiano genial com um único romance) e Jeffrey Eugenides.
Ouça playlist com as músicas do livro
E os musicais? Há muitas referências musicais no livro…
Ih, são vários. Mas eu não sei se eu chamaria de “heróis”, porque não rola exatamente um culto à personalidade, pelo contrário. Admiro musicalmente umas pessoas de caráter duvidoso. Quando eu era adolescente, era fã incondicional de Hole, a banda da Courtney Love. Isso só pra dar um exemplo. Ainda gosto de muita coisa dos anos noventa, como Smashing Pumpkins, The Replacements (que conheci mais tarde) e Guns n’ Roses. Mas isso é uma parte pequena do que eu ouço hoje em dia, que vai do dream pop e do shoegaze, passa pelo folk e chega ao country. Meus last.fm (sim, sou viciada em estatísticas) está dizendo que os artistas que mais ouvi incluem Radio Dept, Pink Floyd, Teenage Fanclub, Yann Tiersen e Nei Lisboa.
Costuma ouvir música quando escreve? O quê? Seu gosto musical é parecido com o da Cora?
Costumo ouvir música quando estou fazendo anotações num caderno, não quando estou na frente do computador, escrevendo de verdade. Porque, nesse caso, a letra geralmente atrapalha, cria um ruído com o ritmo do texto. Mas, no momento de anotar, a relação funciona bem, me ajuda a focar, eu entro numa espécie de imersão, numa atmosfera sugerida pela música.
Meu gosto musical é parecido com o da Cora sim. Muitas músicas ou artistas que eu cito no livro, inclusive, fizeram parte do meu processo criativo. Aliás, fiz uma mixtape com algumas dessas músicas.
Qual foi o último livro que você leu e se envolveu afetivamente, a ponto de ter enrolado para não terminá-lo e sentir falta dele quando acabou?
A Idade da Razão, Jean-Paul Sartre.
Em uma coluna sua para a Zero Hora, no começo de janeiro, você se confessou existencialista. É difícil ser existencialista nos trópicos?
Eu disse isso mais como uma provocação, mas é verdade que eu sinto bastante simpatia pelo existencialismo. Não sei se é mais difícil ser existencialista nos trópicos, porque nunca é fácil admitir que nós construimos a vida que temos e que somos os responsáveis por grande parte do que nos acontece. Mais fácil é culpar os outros e as circunstâncias, ou apelar pra qualquer desculpa religiosa.
Vi que você deu uma palestra com Angélica de Freitas, sobre o que vocês falaram? Se considera uma escritora feminista? Se sim, como isso influencia seu trabalho literário?
Minha ideia de feminismo, há um tempo atrás, era simplesmente não abordar as questões de gênero na minha literatura. Eu achava que nada podia ser mais feminista que isso: ignorar as especificidades do homem e da mulher, tratando qualquer tema, qualquer conflito, como algo “universal”. Acho que eu continuo acreditando nisso, mas só parcialmente. Ainda sou muito intolerante com obras que cristalizam o papel do homem e o papel da mulher, que dizem que a mulher é assim, que o homem é assado, que reproduzem esses atritos conjugais, essa “guerra” de gêneros, enfim, não gosto, detesto modelos, e não estou nem um pouco a fim de representar esses modelos.
Dito isso, é claro que o Caubóis se difere dos meus livros anteriores. A questão do gênero e da identidade sexual está no centro da trama. Mas isso não quer dizer que vai ser assim daqui pra frente. Aconteceu nesse livro, como imagino que tenha acontecido com a Angélica de escrever um livro de poemas cujo foco é a mulher.
Que dica daria para um escritor iniciante?
Não tenha pressa de publicar o primeiro livro.